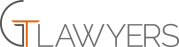O Brasil oferece ao capital de origem estrangeira o mesmo tratamento jurídico concedido ao capital nacional, sendo vedada toda discriminação não prevista em norma legal. Esse princípio foi consagrado pela lei n. 4.131/62, que também criou o Banco Central Brasileiro – BCB.
O BCB tem por principal missão assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda brasileira. Neste sentido, a regulamentação dos fluxos de capitais estrangeiros é de sua competência, assim como a gestação das reservas de divisas.
O BCB tem um papel essencial em um país com histórico de hiperinflação. De fato, o Brasil passou por uma sucessão de planos econômicos e políticas monetárias a partir dos anos sessenta, com a indexação dos preços e das taxas de câmbios, a criação de 7(sete) moedas sucessivas e repetidas intervenções do Banco Central nas taxas de juros. Muito embora tenha enfrentado tal cenário, o Brasil conseguiu se tornar uma das dez maiores economias mundiais.
Justamente em razão de sua história econômica e objetivando resguardar a estabilidade de sua moeda, o Brasil exige que os investidores observem determinadas regras condicionantes à entrada de capital estrangeiro. ¹
1. O REGISTRO PERANTE O BANCO CENTRAL
No Brasil, todo investimento e investidores estrangeiros devem estar registros junto ao BCB, pela empresa destinatária do investimento ou pelo representante do investidor, por meio do módulo RDE (Registro Declaratório Eletrônico) do Sistema de Informações do Banco Central – SISBACEN. Todas as partes envolvidas (investidor, representante do investidor e receptor do investimento), devem estar previamente registradas no CADEMP – (Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas – Capitais Internacionais). O investidor deverá, adicionalmente, estar inscrito junto à Receita Federal do Brasil, para obter um número de CPF (se pessoa física) ou de CNPJ (se pessoa jurídica), que depende, neste último caso, do número de CADEMP.
O RDE é essencial para a transferência dos dividendos para o exterior e para o repatriamento dos capitais. Este registro tem natureza declaratória, não sendo submetido a exame ou verificação preliminar por parte do BCB. Entretanto, a entrada de capitais externos sem o devido registro, ou a transmissão de falsas informações no RDE são passíveis de aplicação de multas variando de R$ 1.000,00 à R$ 250.000,00.²
As duas formas mais frequentes de entrada de capital estrangeiro são o investimento direito e o crédito externo, que serão tratados mais detalhadamente a seguir.
2. INVESTIMENTO DIRETO
O investimento direto consiste na tomada de participação do investidor não-residente no Brasil (pessoa física ou jurídica), por meio da participação oriunda da titularidade de quotas ou ações no capital social de uma sociedade brasileira.
Assim, para subscrever o capital social ou adquirir uma participação de uma sociedade brasileira previamente constituída, os aportes deverão ser enviados através de um estabelecimento bancário autorizado a realizar as operações de câmbio. O registro do investimento no módulo RDE-IED deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias a contar da celebração do contrato de câmbio.
3. CRÉDITO EXTERNO/EMPRÉSTIMO
De acordo com a circular n. 3.689/13 do BCB, os créditos externos correspondem ao “arrendamento mercantil financeiro externo (leasing), empréstimo externo, captado de forma direta ou por meio da colocação de títulos, recebimento antecipado de exportação e financiamento externo”.
Por seu turno, o registro das operações acima listadas se opera por meio do módulo RDE – ROF (Registro Declaratório Eletrônico – Registro de Operação Financeira) do SISBACEN, previamente à entrada do fluxo financeiro.
No que se refere especificamente às operações de empréstimo, o tomador do mútuo deverá informar no seu RDE-ROF as principais características de seu empréstimo: partes, divisa, montante do mútuo, condições e pagamento (prazo, número de parcelas, taxas de juros, etc.), natureza e destinação do mútuo.
4. ASPECTOS FISCAIS
4.1. Investimento direto
As operações de câmbio são submetidas à aplicação de IOF – Imposto sobre as operações financeiras, na alíquota de 0,38% sobre o importe recebido em reais, correspondente ao montante da operação de câmbio na divisa estrangeira.
Por outro lado, caso o investidor não-residente decida vender sua participação, o eventual ganho de capital será submetido ao recolhimento obrigatório de Imposto de Renda – IR, à alíquota de 15%, podendo ser elevada para 25% para residentes em paraísos fiscais.
4.2. Empréstimos
As operações de câmbio ligadas ao fluxo de crédito externo são igualmente submetidas ao recolhimento de IOF, aplicado sobre o montante em reais da operação de câmbio na alíquota de:
- 6% se a duração do mútuo for inferior ou igual a 180 dias, ou
- 0% se a duração for inferior a 180 dias.
Portanto, os mútuos superiores a 180 dias são mais interessantes do ponto de vista fiscal.
Além disso, a operação de câmbio ligada ao pagamento do empréstimo é submetida à uma alíquota de 0% de IOF.
Por fim, os juros pagos ao credor são submetidos ao IR na alíquota de 15%, recolhido diretamente na fonte.
4.3. Dedutibilidade fiscal
As empresas brasileiras pagadoras de juros aos seus credores estrangeiros poderão deduzi-los de seu IR, desde que preencham as três condições seguintes: sociedade sujeita ao regime de lucro real, preço de transferência, e thin capitalization.
A dedução a ser calculada sobre os juros pagos pela sociedade brasileira é limitada a um percentual, chamado de preço de transferência, que varia de acordo com a dívida do empréstimo:
- Para mútuos com taxa fixa de juros, contraídos em dólar americano, serão dedutíveis somente os juros não excedentes à taxa dos títulos públicos brasileiros emitidos no mercado americano em vigor no dia da assinatura do empréstimo, à qual será adicionado o spread de 3,5%;
- Para mútuos com taxa fixa de juros, contraídos em reais, serão dedutíveis somente os juros não excedentes a taxa dos títulos públicos brasileiros emitidos no mercado brasileiro em vigor no dia da assinatura do empréstimo, à qual será adicionado o spread de 3,5%;
- Em todos os outros casos, serão dedutíveis apenas os juros não excedentes à taxa do LIBOR 6 meses em vigor no dia da assinatura do mútuo, à qual será adicionado o spread de 3,5%.
- A dedução de IR deverá igualmente respeitar os limites e condições da regra de thin capitalization, abaixo expostas:
- O financiamento deve ser necessário à atividade do tomador do empréstimo;
- O valor da dívida deve ser inferior a 200% do valor da participação do credor no capital social do tomador brasileiro;
- Em todos os casos, inclusive naqueles em que o credor não detém participação na sociedade brasileira tomadora do empréstimo, a dívida total do empréstimo não deve ser superior a 200% da participação própria.
5. A REPATRIAÇÃO DE BENEFÍCIOS DE SOCIEDADE BRASILEIRA PARA UM INVESTIDOR NÃO-RESIDENTE
O Brasil oferece um tratamento fiscal relativamente interessante no que se refere à distribuição dos benefícios pelas sociedades brasileiras, prevendo expressamente a isenção fiscal dos dividendos distribuídos aos seus quotistas/acionista. A legislação brasileira prevê igualmente a possibilidade da distribuição dos benefícios do capital investido por quotista/acionista sob a forma de juros sobre o capital próprio – JCP, com uma forma de tributação bastante diferenciada para as sociedades brasileiras sujeitas ao regime de lucro real.
6. CONCLUSÃO
Como visto, a entrada de capital estrangeiro no Brasil deve observar determinadas formalidades, devendo ser considerada pelo investidor a carga tributária envolvida. Ademais dos procedimentos ligados à entrada do capital estrangeiro, o investidor deverá igualmente manter seu RDE atualizado e respeitar as regras aplicáveis aos sócios, quotistas e acionistas de empresas brasileiras. Diante disso, é altamente recomendável o assessoramento do investidor por consultores especializados em matérias bancárias, jurídicas e fiscais.
¹De acordo com a lei 4.131/62, os capitais estrangeiros correspondem a todos “os bens, máquinas e equipamentos, entrados no Brasil sem dispêndio inicial de divisas, destinados à produção de bens ou serviços, bem como os recursos financeiros ou monetários, introduzidos no país, para aplicação em atividades econômicas desde que, em ambas as hipóteses, pertençam a pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no exterior”.
A participação de capital estrangeira é vedada ou restrita nas seguintes atividades: desenvolvimento de atividades ligadas à energia nuclear, propriedade e gestão de jornais e de redes de rádio e televisão, serviços ligados à saúde, propriedade rural e seus negócios em zonas fronteiriças, serviços postais e telegráficos; atividades de aviação no território brasileiros, e indústria aeroespacial.
²De acordo com a Lei nº 11.371/2006 e a Resolução n. 4.104/2012.
1. Joint-Venture – principais aspectos.
Desde os anos 2000, o Brasil aparece como uma excelente alternativa para investimentos, devido à estabilização da sua economia, que levou a um forte aumento do poder aquisitivo da população e, portanto, um excelente retorno sobre o investimento, especialmente em comparação ao de países desenvolvidos no período pós-crise financeira de 2008.
Como a maioria dos países em desenvolvimento, o Brasil apresenta um quadro de Negócios complexo. É precisamente neste contexto que as parcerias entre investidores estrangeiros e empresas locais podem apresentar soluções interessantes. De um lado os investidores, com produtos e serviços inovadores e diferenciados métodos de trabalho; de outro, os empresários locais que valoram a perícia sobre o ecossistema brasileiro, oferecendo a oportunidade para os investidores estrangeiros se beneficiarem de uma aterragem suave no país.
A Joint-Venture é uma alternativa pela qual, em parceria, os investidores estrangeiros e empresários brasileiros podem unir forças para explorar novas oportunidades no país. A Joint-Venture pode ter como objetivo a realização de um projeto ou uma atividade de longo ou curto prazo, e em todos os campos possíveis de negócios.
De natureza essencialmente contratual, a Joint-Venture não está expressamente prevista pela legislação brasileira. Existe, portanto, uma grande flexibilidade jurídica que respeita a sua concepção, existência e extinção. No entanto, os contratos que regem a Joint-Venture devem observar os limites legais brasileiros, e os principais princípios gerais de direito local. As Joint-Ventures podem ser personificadas ou não, ou seja, ser o resultado tanto da constituição de uma pessoa jurídica específica para atingir os objetivos estabelecidos, ou por meio de uma Sociedade ad hoc (“Sociedade de Propósito Específico “ou” SPE “), bem como ser o fruto de uma parceria de negócios simples, sem a constituição de uma sociedade específica.
A SPE pode ser constituída sob a forma de sociedade de responsabilidade limitada (“Sociedade Limitada”) ou Sociedade por Ações, em função do tipo de investimento, envio de valores e tendo em vista, o direito das obrigações e o que estará a cargo da decisão dos futuros sócios. A Sociedade em Conta de Participação, uma sociedade contratual não personificada, mesmo que pouco tratada pela doutrina brasileira, representa uma alternativa atraente e relativamente utilizadas para as parcerias, principalmente no sector imobiliário.
Normalmente, o contrato de Joint-Venture deve conter: (i) a finalidade e a duração da Joint-Venture; (ii) as obrigações, contribuições e responsabilidades de cada parte, incluindo as de ordem tributária; e (iii) o financiamento do projeto e a modalidade de distribuição dos resultados entre os parceiros.
2. Joint-Ventures e as sociedade no Brasil: “Ltda”, uma fórmula muito atrativa
De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2002, 99% das sociedades constituídas no Brasil são sociedades por ações ou sociedades de responsabilidade limitada, com ampla predominância desta última.
Ela deve ser composta por pelo menos dois sócios, pessoas físicas ou jurídicas. Exceto em casos específicos, a totalidade dos sócios pode ser de estrangeiros não-residentes no Brasil. No entanto, o administrador deverá ser, necessariamente, uma pessoa que tenha domicílio no Brasil.
Em princípio, a responsabilidade é limitada ao valor do capital subscrito por cada um deles. No entanto, existem algumas exceções a esta limitação, decorrente de lei ou da jurisprudência brasileira.
A Ltda. é constituída por meio de um Contrato Social, em que os sócios definirão especialmente o objeto social, sede e filiais da Sociedade, a participação no capital de cada um e os poderes dos administradores.
Os sócios poderão integralizar o capital social mediante o aporte de bens ou direitos para a Sociedade. Em uma Ltda., os sócios são responsáveis pela estimação do valor dos bens aportados para a Sociedade, e também por uma eventual superestimação relevante. O aporte de capital por meio da prestação de serviços é proibido no Brasil. A legislação brasileira não prevê um mínimo legal relativamente o montante do capital social inicial, no entanto, o capital deverá ser equivalente ao montante mínimo necessário para o exercício do objeto social da sociedade.
Uma vez que o capital social está totalmente integralizado, os parceiros podem aumentá-lo a qualquer momento, através de uma Alteração do Contrato Social (“ACS”). É garantido a todos os sócios o direito de preferência na proporção de sua participação no capital.
Geralmente, as Ltdas. têm uma forma de governança simplificada, podendo ser gerida por um ou mais administradores, que respondem diretamente aos sócios. No entanto, há na legislação brasileira a possibilidade de criar um conselho de administração, o que representa uma grande vantagem no contexto de uma Joint-Venture, pois, os membros do Conselho de Administração têm obrigação legal de realizar prova de residência efetiva no Brasil. É importante sublinhar ainda que na legislação brasileira, o Conselho de Administração não tem poderes de representação da Sociedade, sua competência é essencialmente analítica e destinada à aprovação de decisões estratégicas.
Em essência, este tipo de Sociedade é amplamente utilizado no Brasil por conta da alta flexibilidade e do baixo custo, tanto de constituição quanto de operação.
3. A Sociedade por Ações (“S.A.”)
A Sociedade por Ações observa os mesmos princípios de formação da Ltda., acima elencadas. A principal diferença é que a S.A. deve ser governada por um mínimo de dois Diretores que sejam pessoas singulares que residam legalmente no Brasil.
A S.A. é constituída por meio de uma Assembleia Geral de Constituição, durante a qual os acionistas aprovam o Estatuto da Companhia, incluindo a definição de forma precisa e exaustiva do objeto social, os poderes de administração e outras regras de governança.
O capital social da S.A. é dividido em ações e a responsabilidade dos sócios é limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas, com o entendimento de que, diferentemente da Ltda., 10% do capital deve ser pago na data da constituição. Uma vantagem significativa em comparação com a Ltda. é o fato de que as ações podem ser emitidas com prêmios diferenciados, sem que a Companhia seja obrigada ao pagamento do imposto sobre o rendimento (taxa em torno de 34%) a notável diferença entre o valor nominal da ação e do prémio efetivamente pago durante o aumento de capital, evitando assim, qualquer diluição da participação acionária. Como na Ltda., é assegurado a todos os acionistas o direito de preferência na proporção das ações detidas na Sociedade, na subscrição e integralização de novas ações decorrentes do aumento de capital.
A S.A. é administrada por um mínimo de dois Diretores, pessoas físicas residentes legalmente no Brasil.
A lei das S.A. prevê expressamente a possibilidade de criar um Conselho de Administração ou um Conselho de Auditores, agindo como se fosse uma Auditoria (“Conselho Fiscal”). O Conselho de Administração, eleito pelos acionistas, deverá ser composto pelo menos por 3 membros, residentes ou não no Brasil. Os membros do Conselho de Administração que não serão residentes no Brasil deverão outorgar uma procuração a uma pessoa física residente no território Brasileiro. Assim como a Ltda., o Conselho de Administração não tem poderes de representação da Sociedade, que será uma condição exclusiva dos Diretores.
No entanto, terá competência e autoridade para deliberar sobre questões estratégicas da Companhia, assim como poderá vincular a atuação dos Diretores a vincular a Companhia apenas aos atos autorizados pelo Conselho de Administração além dos limites já impostos pelo Estatuto.
De maneira geral, os empresários constituem uma S.A. ou transformam uma Ltda. em S.A. quando sentem a necessidade de captar recursos. Com efeito, as regras contábeis mais rigorosas ajudam a trazer mais transparência nas relações com investidores. Também é possível obter o controle da Sociedade com uma maioria simples (50% + 1 ação, diferente da Ltda. onde a minoria é 25%). Além disso, como mencionado acima, a Companhia poderá emitir ações com diferentes prêmios, para que dois investidores que contribuíram com a mesma quantidade, possam comprar uma quantidade diferente de ações, com reserva de determinadas condições expressamente previstas por lei.
4. Acordo de Acionistas/Quotistas
O Acordo de Acionistas ou Quotistas (“Acordo”), seja em uma Ltda. ou uma S.A., é uma ferramenta fundamental para determinar os limites e regulamentar a relação entre as Partes da Joint-Venture, os investidores em uma Sociedade para a realização conjunta de um projeto.
O Acordo é a modalidade jurídica pela qual os parceiros decidem, dentro dos limites da lei, todas as regras que regem a sua relação mútua. O Acordo é, de fato o meio adequado pelo qual os sócios/acionistas podem estabelecer as regras relativas à (i) compra e venda de ações, incluindo tag along e drag along; (ii) o exercício dos direitos de voto dos sócios/acionistas; (iii) determinação do quórum para aprovação de questões estratégicas da Sociedade; (iv) o encerramento da Joint-Venture, etc.
5. A Sociedade em Conta de Participação (“SCP”)
Ao contrário da Sociedade Ltda. e S.A., a SCP é uma sociedade contratual, sem personalidade jurídica. Sua constituição não é condicionada ao registro na Junta Comercial do Estado respectivo (Registro Comercial) e, portanto, não depende de nenhuma formalidade, apenas a assinatura de um contrato. Mesmo que seja pouco tratada pela doutrina, a SCP tem um uso prático, em razão de suas particularidades e características.
Com efeito, os Sócios, no caso de uma Joint-Venture podem decidir livremente sobre o objeto, funcionamento da operação e as regras que serão aplicadas (obrigações). No mais, tendo em vista seu caráter confidencial este tipo de Sociedade é frequentemente utilizado para estabelecer uma forma de vedação entre os eventuais passivos existentes dentro do grupo econômico do parceiro brasileiro e investidor estrangeiro, incluindo impostos e conflitos laborais.
Existem dois tipos de Sócios em uma Sociedade em Conta de Participação: (i) o sócio ostensivo, que é quem desenvolve efetivamente o objeto dos negócios da Sociedade em seu próprio nome e sob a sua própria responsabilidade; e (ii) o sócio oculto, que em princípio não responde perante terceiros, sendo responsável somente perante o sócio ostensivo, e segundo as modalidades enunciadas no contrato de SCP formalizado entre as partes.
Tendo em vista que a SCP não tem personalidade jurídica, não poderá, em caso algum possuir patrimônio próprio. Sublinhamos assim, que a SCP deverá possuir um número de Registro fiscal próprio (CNPJ), permitindo assim a abertura de uma conta bancária na qual os recursos financeiros e recebíveis poderão transitar normalmente.
Por fim, ressaltamos que os resultados de uma Sociedade em Conta de Participação serão distribuídos aos sócios a título de dividendos, e, portanto, isentos de imposto de renda.
A distribuição de lucros de uma sociedade a seus acionistas ainda é a principal forma de remuneração do investimento realizado pelos acionistas, sendo, por isso, o principal objetivo da atividade empresarial.
No âmbito internacional, a distribuição de lucros para os investidores se reveste de contornos bastante especiais, tendo em vista os impactos geopolíticos da distribuição de lucros gerados em determinado país para acionistas localizados fora de suas fronteiras, bem como os diversos aspectos jurídicos desse fenômeno, tais como a regulamentação cambial e tributária.
Dentro desse cenário, nosso objetivo é analisar os principais aspectos tributários envolvidos na repatriação de lucros de sociedades no Brasil para seus acionistas na França, pessoas físicas, jurídicas ou fundos de investimento.
I – A distribuição de dividendos por empresas brasileiras
O lucro líquido do exercício, passível de distribuição pelas sociedades no Brasil sob a forma de dividendos, é definido como o resultado do exercício que remanescer depois de deduzidas as participações estatutárias de empregados, administradores e partes beneficiárias.
Nessa linha, de acordo com a legislação brasileira, os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior. Portanto, desde janeiro de 1996, o Brasil isenta do imposto de renda os dividendos distribuídos pelas sociedades no Brasil, independentemente da natureza do beneficiário ou do país de sua residência.
Essa regra reflete a política fiscal adotada pelo Brasil, qual seja, de tributar os resultados da atividade empresarial desenvolvidas no Brasil exclusivamente na empresa (pessoa jurídica), pelos impostos corporativos, isentando de tributação os resultados distribuídos aos acionistas, qualquer que seja a sua natureza ou residência, uma vez que tais resultados já foram tributados na empresa.
Importante salientar, ainda, que a isenção tributária concedida pelo Brasil aos dividendos distribuídos por sociedades brasileiras se aplica ainda que os dividendos sejam pagos a investidores com os quais o Brasil possui Tratado para evitar a Dupla Tributação da Renda (“Tratado”), como é o caso da França. Em geral, os Tratados permitem que o país de domicílio da empresa investida tribute os dividendos distribuídos por ela até um certo limite (no Tratado Brasil-França, esse limite é de 15%). Contudo, considerando que o Brasil decidiu isentar os dividendos distribuídos por sociedades no Brasil, essa isenção não é prejudicada pelo Tratado, que apenas impõe um limite máximo, mas não cria o tributo e nem obriga os países a tributarem até tal limite.
Por outro lado, embora não sejam tributados no Brasil, os dividendos poderiam ser tributados no país de residência dos investidores, seguindo a linha do princípio da universalidade da renda (worldwide income).
Por outro lado, nos demais casos envolvendo dividendos pagos por empresa no Brasil a investidores na França, o Tratado prevê que a França concederá aos seus residentes que recebem tais rendimentos de fonte brasileira um crédito tributário correspondente ao imposto pago no Brasil, no limite do imposto francês referente a esses mesmos rendimentos, sendo que o imposto brasileiro será considerado como tendo sido cobrado à taxa mínima de 20%.
II – Uma alternativa: os juros sobre o capital próprio (“JCP”)
Contudo, em que pese a política fiscal acima descrita, é importante lembrar que o Brasil possui um instrumento alternativo de distribuição de lucros, denominado de “juros sobre o capital próprio”, o qual recebe tratamento tributário distinto.
Em seu cálculo, os JCP se assemelham a juros, uma vez que são pagos anualmente aos acionistas e calculados sobre as contas de patrimônio líquido da sociedade, multiplicadas pela taxa de juros de longo prazo (“TJLP”) do período (a partir de 1º de janeiro de 2016, a taxa será de 5% ou a TJLP, devendo se aplicar aquela que for menor). Com esse perfil, os JCP buscam garantir uma remuneração mínima (e pré fixada) aos acionistas pelo seu investimento na sociedade, tendo como base a aplicação da TJLP sobre o valor do patrimônio líquido.
Importante destacar que o pagamento dos JCP encontra restrições, uma vez que o valor dos JCP fica limitado ao montante de 50% dos lucros, computados antes da dedução dos juros. Assim, o pagamento dos JCP somente se faz possível nas ocasiões em que a sociedade possua lucros em montante equivalente ou superior a 2 vezes o valor dos JCP, sendo esse valor imputado ao valor dos dividendos mínimos obrigatórios.
No âmbito do Tratado Brasil-França (artigo XI), os JCP devem ser considerados como juros, podendo se sujeitar à tributação do Brasil. Por essa razão, com base no Tratado, os JCP pagos por empresa no Brasil a investidores na França sujeitam-se ao IRF à alíquota de 15% (para pagamentos de JCP fora do Tratado, essa alíquota foi majorada para 18% a partir de 1º de janeiro de 2016).
A maior vantagem dos JCP, em comparação com os dividendos, é seu tratamento tributário. Isso porque, ao contrário dos dividendos, os JCP pagos dentro dos limites acima configuram-se como despesas dedutíveis para fins de apuração do Imposto de Renda Corporativo (alíquota aproximada de 34%) para as empresas sujeitas ao regime do lucro real. Por outro lado, os JCP se sujeitam ao Imposto de Renda na Fonte (“IRF”) à alíquota de 15%, inclusive quando pagos a residentes no exterior (exceto se localizados em paraísos fiscais, hipótese em que o IRF será cobrado à alíquota de 25%).
Assim, em resumo, para as empresas sujeitas ao regime do lucro real, o pagamento dos JCP (dentro dos limites estabelecidos acima) pode resultar em economia fiscal, vez que a carga tributária no Brasil é reduzida de 34% (tributação corporativa sobre dividendos) para 15% (IRF).
III – Conclusões
O Brasil atribui tratamento tributário bastante interessante à distribuição de lucros por sociedades brasileiras, estipulando expressamente a isenção fiscal dos dividendos pagos aos acionistas.
Além disso, a legislação prevê a possibilidade de distribuição de lucros sob a forma dos JCP, com uma forma de tributação bastante diferenciada para as sociedades brasileiras sujeitas ao regime de lucro real. Embora limitados a apenas 50% dos lucros do período, os JCP pagos dentro dos parâmetros legais são considerados despesas dedutíveis na apuração do Imposto de Renda Corporativo, o que pode implicar em razoável economia tributária.
Lei das Sociedade Anônimas, artigo 191.
Artigo X, item 2.
As seguintes contas são consideradas para fins de cálculo dos JCP: capital social, reservas de capital, reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados.
O Imposto de Renda Corporativo engloba o Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (“IRPJ”) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”).
Instrução Normativa 1455/2014.
Matéria publicada na Revista da Câmara de Comércio França-Brasil
Mesmo ostentando crescimento excepcional nos últimos anos, o setor de perfumaria e cosméticos está apreensivo com o recente aumento da carga tributária. Desde 1º de maio está em vigor o Decreto 8.393/2015, que equipara comerciantes atacadistas a industriais para efeitos de incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Na prática, os atacadistas ficam obrigados a recolher o IPI ao revender a varejistas ou consumidores perfumes, produtos de maquiagem para os lábios e olhos, laquês e preparações para tratamento de cabelo, preparações para barbear, sais de banhos, pós compactos, cremes de beleza e loções tônicas, entre outros itens listados pelo decreto.
“Juridicamente, essa mudança é questionável, uma vez que foi implementada por meio de decreto, que não é a forma apta a criar novas incidências do IPI; e equipara a industrial um estabelecimento que não realiza qualquer industrialização e nem substitui, na cadeia de circulação dos bens, um estabelecimento industrial”, argumenta o advogado Estevão Gross, responsável pela área tributária do escritório GTLawyers.
Ele explica que, assim como o ICMS, o IPI incide nas diversas etapas da produção de um bem. No caso de produtos industrializados importados, em situações normais, o IPI é cobrado duas vezes: na importação do item e na venda dele pelo importador (equiparado a estabelecimento industrial).
Ocorre que, com o novo decreto, o IPI passa a ser cobrado três vezes: na importação, na venda do produto pelo importador para o atacadista e na venda do produto pelo atacadista para os consumidores/varejistas. No caso da industrialização de bens no Brasil, a situação é semelhante.
Normalmente, o IPI é cobrado em cada operação de venda de insumos até a produção e venda do produto final pela indústria. Quando o produto é vendido a um atacadista, ocorre a última incidência. Com a mudança do Decreto, a cobrança do IPI ganha mais um “estágio”, alcançando as operações realizadas pelos atacadistas. “A novidade, agora, é que estabelecimentos exclusivamente comerciais (atacadistas) deverão recolher o IPI sobre as vendas de cosméticos por eles realizadas”, enfatiza o advogado.
Embora o IPI não seja cumulativo (o que foi pago nas operações anteriores é depois compensado), há aumento da carga tributária. Gross explica que isso ocorre porque o imposto passará a incidir sobre o preço praticado pelo atacadista (que inclui seus custos e margem de lucro) e não mais sobre o preço cobrado pelo industrial.
Impactos previstos – Segundo o presidente da Abihpec, João Carlos Basilio, a medida poderá elevar em até 12,5% o preço dos produtos para o consumidor final. Ele estima que a alta nos preços produzirá uma queda média de 7% no volume de vendas dos produtos afetados. O dirigente afirma ainda que a entidade está buscando dialogar com a equipe econômica do governo. “Entendemos a necessidade de equilibrar as contas públicas, mas é preciso fortalecer um setor responsável por quase 2% do PIB e capaz de atrair fortes investimentos para o País, além de gerar 4,8 milhões de oportunidades de emprego”, finaliza.